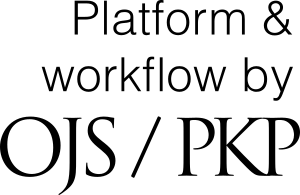Psicologia e uso de drogas
Análise da produção científica brasileira em Psicologia
Palavras-chave:
Pesquisa científica, Psicologia, DrogasResumo
A produção de conhecimento científico sobre as substâncias psicoativas é permeada por compreensões ideológicas ancoradas na Política Internacional de Guerra às Drogas. Nesse contexto, objetiva-se analisar como as pesquisas em Psicologia têm abordado o fenômeno do uso de drogas. Foi realizada uma revisão integrativa dos artigos em periódicos brasileiros de Psicologia com Qualis A1 e A2, publicados entre os anos de 2007 e 2020, nas bases de dados SciELO e PePSIC. Procedeu-se a uma análise interpretativa e do corpus textual com o software IRAMUTEQ. Elaboraram-se análises de similitude com os substantivos e os verbos. Os estudos qualitativos mostraram a centralidade da palavra “droga” fortemente ligada ao termo “uso”. Já os estudos quantitativos se organizam em torno do halo no qual o termo “uso” é central, fortemente vinculado aos termos “droga” e “substância”. A produção científica da Psicologia brasileira tem tratado o fenômeno do uso de drogas de maneira dicotômica e causalista e concebe os problemas em relação ao consumo mediante uma cisão entre drogas, indivíduos e seus contextos socioculturais.
Referências
Acioli, M. L., Neto, & Santos, M. F. (2016). Os usos de crack em um contexto de vulnerabilidade: representações e práticas sociais entre usuários. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 32(3), 1-9. Recuperado de https://doi.org/10.1590/0102-3772e32326.
Amato, T. C., Silveira, P. S., Oliveira, J. S., & Ronzani, T. M. (2008). Crenças e comportamentos sobre práticas de prevenção ao uso de álcool entre pacientes da atenção primária à saúde. Estudos e Pesquisas em Psicologia UERJ, 8(3), 744-758. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812008000300013.
Andrade, T. (2000). Drogas injetáveis na Bahia: usos e usuários. In F. Mesquita & S. Seibel (Orgs.). Consumo de drogas: desafios e perspectivas (p. 81-89). São Paulo: Hucitec.
Assis, C., Faria, D., & Lins, L. F. (2014). Bem-estar subjetivo e qualidade de vida em adeptos de ayahuasca. Psicologia & Sociedade, 26(1), 224-234. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000100024.
Becker, H. S. (2008). Outsiders: estudos da Sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar.
Bergeron, H. (2012). A Sociologia da droga. Aparecida, SP: Ideias & Letras.
Chiapetti, N., & Serbena, C. A. (2007). Uso de álcool, tabaco e drogas por estudantes da área de Saúde de uma universidade de Curitiba. Psicologia: Reflexão e Crítica, 20(2), 303-313. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0102-79722007000200017.
Conselho Federal de Psicologia – CFP (2019). Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) em políticas públicas de álcool e outras drogas. Brasília, DF: CFP. Recuperado de https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/09/AlcooleOutrasDrogas_web-FINAL.pdf.
Ciribelli, E. B., Luiz, A. M. A. G., Gorayeb, R., Domingos, N. A. M., & Marques, A. B., Filho (2008). Intervenção em sala de espera de ambulatório de dependência química: caracterização e avaliação de efeitos. Temas em Psicologia, 16(1), 95-106. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2008000100009.
Cirino, D. C. D. S., & Alberto, M. D. F. P. (2009). Uso de drogas entre trabalhadores precoces na atividade de malabares. Psicologia em Estudo, 14(3), 547-555. Recuperado de https://www.scielo.br/j/pe/a/H4487TW6fkfZ3s9bJzRx3Gq/?format=pdf&lang=pt.
Dameda, C., & Bonamigo, I. S. (2018). Adolescentes, infração e drogas: cartografando tessituras de redes sociotécnicas. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 70(3), 5-20. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/arbp/v70n3/02.pdf.
Fachini, A., & Furtado, E. F. (2013). Uso de álcool e expectativas do beber entre universitários: uma análise das diferenças entre os sexos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 29(4), 421-428. Recuperado de https://www.scielo.br/j/ptp/a/jssLWcb4g5y6rpTwwPTRmpL/?format=pdf&lang=pt.
Ferreira, V. M, & Sousa, E. A., Filho (2007). Maconha e contexto familiar: um estudo psicossocial entre universitários do Rio de Janeiro. Psicologia & Sociedade, 19(1), 52-60. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0102-71822007000100008.
Geanellos, R. (2000). Exploring Ricoeur’s Hermeneutic Theory of Interpretation as a Method of Analysing Research Texts [Explorando a teoria hermenêutica da interpretação de Ricoeur como um método de análise de textos de pesquisa]. Nursing Inquiry, 7(1), 112-119. Retrieved from https://doi.org/10.1046/j.1440-1800.2000.00062.x.
Giacomozzi, A. I. (2011). Representações sociais da droga e vulnerabilidade de usuários de CAPSad em relação às DST/HIV/AIDS. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 11(3), 776-795. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812011000300004.
Macedo, M. M. K., Dockhorn, C. N. B. F., & Kegler, P. (2014). Para além da substância: considerações sobre o sujeito na condição da toxicomania. Psicologia: Teoria e Prática, 16(2), 41-52. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872014000200004.
Lima, A. F. (2008). Dependência de drogas e Psicologia Social: um estudo sobre o sentido das oficinas terapêuticas e o uso de drogas a partir da teoria de identidade. Psicologia & Sociedade, 20(1), 91-101. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0102-71822008000100010.
Maciel, S. C., Melo, J. R, Dias, C., Silva, G., & Gouveia, Y. B. (2014). Sintomas depressivos em familiares de dependentes químicos. Revista Psicologia: Teoria e Prática, 16(2), 18-28. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872014000200002.
Macrae, E., & Vidal, S. (2006). A Resolução 196/96 e a imposição do modelo biomédico na pesquisa social: dilemas éticos e metodológicos do antropólogo pesquisando o uso de substâncias psicoativas. Revista de Antropologia da USP, 49(2), 645-666. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0034-77012006000200005.
Medeiros, K. T., Maciel, S. C., Sousa, P. F., Tenório-Souza, f. M., & Dias, C. C. V. (2013). Representações sociais do uso e abuso de drogas entre familiares de usuários. Psicologia em Estudo Maringá, 18(2), 269-279. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S1413-73722013000200008.
Melo, J. R. F., & Maciel, S. C. (2016). Representação social do usuário de drogas na perspectiva de dependentes químicos. Psicologia: Ciência e Profissão, 36(1), 76-87. Recuperado de https://doi.org/10.1590/1982-3703000882014.
Pires, R. R., & Ximenes, V. M. (2014). Sentidos sobre o uso de drogas construídos por psicólogos: implicações práticas. Revista de Psicologia da Unesp, 13(2), 41-51. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/revpsico/v13n2/a05.pdf.
Quinderé, P. H. D. (2013). Experiência do uso de crack e sua interlocução com a Clínica: dispositivos para o cuidado integral do usuário. Tese de doutorado, Universidade Estadual do Ceará, Ceará, Brasil.
Rodrigues, L. O. V., Silva, C. R. C., Oliveira, N. R. C., & Tucci, A. M. (2017). Perfil de usuários de crack no município de Santos. Temas em Psicologia, 25(2), 675-689. Recuperado de https://doi.org/10.9788/TP2017.2-14.
Ruiz, M. A., Greco, O. T., & Braile, D. M. (2009). Fator de impacto: importância e influência no meio editorial, acadêmico e científico. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, 24(3), 273-278. Recuperado de https://doi.org/10.1590/s1516-84842009005000080.
Santos, C. E., & Costa-Rosa, A. (2007). A experiência da toxicomania e da reincidência a partir da fala dos toxicômanos. Estudos de Psicologia Campinas, 24(4), 487-502. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2007000400008.
Scheffer, M., Pasa, G. G., & Almeida, R. M. M. D. (2010). Dependência de álcool, cocaína e crack e transtornos psiquiátricos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26(3), 533-541. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0102-37722010000300016.
Silveira, O. S., & Ronzani, T. M. (2011). Estigma social e saúde mental: quais as implicações e importância do profissional de saúde. Revista Brasileira Saúde da Família, 28(1), 51-58.
Silva, L. G. D., Tófoli, L. F., & Calheiros, P. R. V. (2018). Tratamentos ofertados em comunidades terapêuticas: desvelando práticas na Amazônia Ocidental. Estudos de Psicologia, 23(3), 325-333.
Sousa, P. F., Ribeiro, L. C. M., Melo, J. R. F, Maciel, S. C., & Oliveira, M. X. (2013). Dependentes químicos em tratamento: um estudo sobre a motivação para mudança. Temas em Psicologia, 21(1), 259-268. Recuperado de https://doi.org/10.9788/TP2013.1-18.
Souza, M. A., & Kallas, R. M. (2009). Análise da destrutividade em adictos a drogas: contribuição a uma abordagem psicoterapêutica. Temas em Psicologia, 17(2), 377-391. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-389X2009000200010&lng=pt&nrm=iso.
Zinberg, N. E. (1984). Drug, Set, and Setting: The Basis for Controlled Intoxicant Use [Drogas, estado mental e contexto social: as bases para o uso controlado de tóxico]. New Haven, Connecticut: Yale University. 16(3). Retrieved from https://doi.org/10.1080/02791072.1984.10524320.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Paulo Henrique Dias Quinderé , Bárbara Lobo Paz , Francisco Pablo Huascar Aragão Pinheiro , Rodrigo da Silva Maia , Esthela Sá Cunha

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam neste periódico concordam com os seguintes termos:
a. Autores mantém os direitos autorais e concedem à periódico o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial neste periódico.
b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada neste periódico (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial neste periódico.
c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).