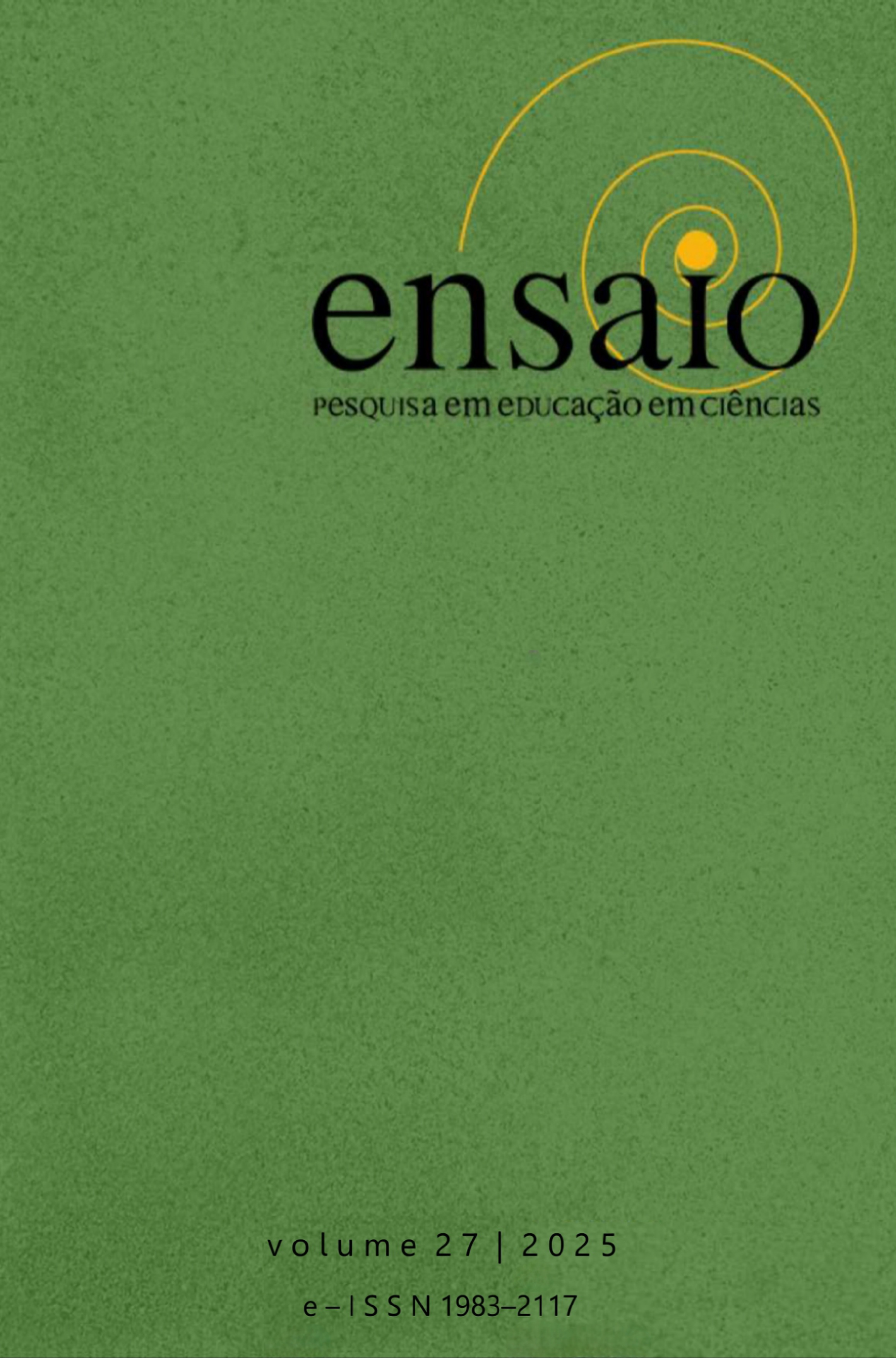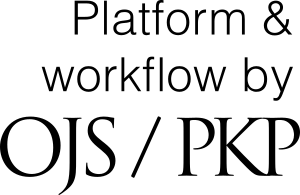LAS SEMILLAS CRIOLLAS Y EL AFRONTAMIENTO DEL ANTROPOCENO EN LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA.
UN ESTUDIO CON LICENCIADOS EN EDUCACIÓN DE CAMPO SOBRE ALIANZAS PARA POSPONER EL FIN DEL MUNDO.
DOI:
https://doi.org/10.1590/Palabras clave:
Educación rural, ecología afectiva, teoría actor-red, antropocenoResumen
En este artículo documentamos las ecologías afectivas que se forman entre estudiantes de pregrado en educación rural y semillas criollas. Para analizar los datos producidos, seguimos la inspiración etnográfica adoptada por la Teoría del Actor-Red (ANT), según la versión de Latour (2012). Los informes de los estudiantes se articulan con las humanidades científicas (Latour, 2020). Sostenemos que las historias involutivas narradas por los estudiantes y sus colectivos son posibilidades de posponer el fin del mundo, contando otras historias sobre las relaciones con la tierra. Lo que emerge entre el suelo, el aire, las casas, las familias, el agua, los nutrientes configura la vida campesina, paisajes y ritmos no tan fácilmente delimitables. Asimismo, el acto de mantener las manos en la tierra, conservar artefactos y pensar en mantener prácticas, que también son educativas, y pueden permitir acceder a ejercicios de resistencia y reconocimiento de estrategias de mantenimiento de la vida que involucran el presente, el pasado y el futuro. Así, con este estudio pretendemos traer algunas consideraciones sobre la forma en que producimos conocimiento, y las posibilidades de diálogos entre ontologías y colectivos heterogéneos que nos permitan tejer un mundo donde quepan muchos mundos.
Referencias
Abram, D. (2013). Um mundo além do humano. Espaço Ameríndio, 7(2), 64-64.
Bauchspies, W. K., & Bellacasa, M. P. de la. (2009). Feminist science and technology studies: A patchwork of moving subjectivities. An interview with Geoffrey Bowker, Sandra Harding, Anne Marie Mol, Susan Leigh Star and Banu Subramaniam. Subjectivity, 28(1), 334-344. https://doi.org/10.1057/sub.2009.21
» https://doi.org/10.1057/sub.2009.21
Biesta, G. (2012). Putting teaching back into education: Responding to the disappearance of the teacher. Phenomenology and Practice, 6(2), 35-49.
Bonnett, M. (2007). Environmental education and the issue of nature. Journal of Curriculum Studies, 39(6), 707-721. https://doi.org/10.1080/002202707014471494
» https://doi.org/10.1080/002202707014471494
Clement, L., Custódio, J. F., & P. Filho, J. de P. A. (2015). Potencialidades do ensino por investigação para promoção da motivação autônoma na educação científica. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 8(1), 101-129.
Damasio, F., & Peduzzi, L. O. Q. (2017). História e filosofia da ciência na educaçãocientífica: para quê?. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 19, 77-95. https://doi.org/10.1590/1983-21172017190103
» https://doi.org/10.1590/1983-21172017190103
Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23(7), 5-12.
Duschl, R., & Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentative discourse in science teaching. Studies in Science Education, 38(1), 39-72. https://doi.org/10.1080/03057260208560187
» https://doi.org/10.1080/03057260208560187
Facer, K. (2013). The problem of the future and the possibilities of the present in educational research. International Journal of Educational Research, 61, 135-143.
Fernandes, E. da R. (2016). Letramento científico no ensino básico público no município de Palmas - Tocantins (Dissertação de mestrado em Letras: Ensino de Língua e Literatura, Universidade Federal do Tocantins). Repositório da UFT. http://hdl.handle.net/11612/1748
» http://hdl.handle.net/11612/1748
Gil-Pérez, D., & Vilches, A. (2004). ¿Alfabetización científica del conjunto de la ciudadanía? Un debate crucial. Cultura y Educación
Grynszpan, D. (2012). Educação científica: em busca da apropriação profissional da metodologia investigativa no cotidiano escolar. Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista, 11(4), 23-32.
Halmenschlager, K. R., & Delizoicov, D. (2017). Abordagem temática no ensino de ciências: caracterização de propostas destinadas ao ensino médio. Alexandria: revista de educação em ciência e tecnologia, 10(2), 305-330.
Haraway, D. (2016). Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes (S. Dias, M. Verônica, & A. Godoy, Trad.). ClimaCom - Vulnerabilidade, 3(5), 250-266. http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/antropoceno-capitaloceno-plantationoceno-chthuluceno-fazendo-parentes/
Haraway, D. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene New York: Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822373780
» https://doi.org/10.1515/9780822373780
Holdbrook, J., & Rannikmae, M. (2007). Nature of science education for enhancing scientific literacy. International Journal of Science Education, 29(11), 1347-1362.
Horn, E., & Bergthaller, H. (2019). O Antropoceno: Questões-chave para as humanidades New York: Routledge.
Hustak, C., & Myers, N. (2012). Momento involucionário: ecologias afetivas e as ciências dos encontros entre plantas e insetos. Diferenças, 23(3), 74-118.
Inkpen, S. A., & DesRoches C. T. (2019). Revamping the Image of Science for the Anthropocene. Philosophy, Theory, and Practice in Biology, 11(3). https://doi.org/10.3998/ptpbio.16039257.0011.003
» https://doi.org/https://doi.org/10.3998/ptpbio.16039257.0011.003
Kind, P., & Osborne, J. (2017). Styles of scientific reasoning: A cultural rationale for science education?. Science Education, 101(1), 8-31.
Kolbert, E. (2018). Climate Solutions: Is It Feasible to Remove Enough CO2 from the Air?Yale Environment 360 https://e360.yale.edu/features/negative-emissions-is-it-feasible-to-remove-enough-co2-from-the-air
» https://e360.yale.edu/features/negative-emissions-is-it-feasible-to-remove-enough-co2-from-the-air
Krenak, A. (2019). Ideias para adiar o fim do mundo São Paulo: Companhia das Letras.
Latour, B. (2021). Onde estou? Lições sobre o confinamento para uso dos terrestres (R. de Azevedo, Trad.). Rio de Janeiro: Bazar do Tempo.
Latour, B. (1994). Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia Simétrica Rio de Janeiro: Editora 34.
Latour, B. (2012). Reagregando o Social: uma introdução à teoria Ator-Rede (G. C. C. de Souza, Trad.). Salvador/Bauru: EDUFBA-EDUSC.
Latour, B. (2013). The Anthropocene and the destruction of the image of the globe In Gifford Lecture, 4. The University of Edinburgh. https://www.ed.ac.uk/arts-humanities-soc-sci/news-events/lectures/gifford-lectures/archive/series-2012-2013/bruno-latour/lecture-four
Latour, B. (2016). Cogitamus (J. P. Dias, Trad.). São Paulo: Editora 34.
Latour, B. (2019). Jamais fomos modernos (C. I. da Costa, Trad.). São Paulo: Editora 34 .
Law, J. (2007). Actor Network Theory and Material Semiotics, version of 25th April 2007. http://www. heterogeneities.net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf
» http://www. heterogeneities.net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf
Lewis, S., & Maslin, M. (2015). Definindo o Antropoceno. Nature, 519, 171-180. https://doi.org/10.1038/nature14258
» https://doi.org/https://doi.org/10.1038/nature14258
Marras, S. (2018). Por uma antropologia do entre: reflexões sobre um novo e urgente descentramento do humano. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 69, 250-266.
Matthews, M. (1994). Science Teaching London: Routledge.
Miller, R. (2006). Futures studies, scenarios and the ‘possibility space’ approach. In Think scenarios, rethink education (pp. 93-105). OECD. http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/scenarios/
» http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/scenarios/
Moura, C. B. (2021). Para que história da ciência no ensino? Algumas direções a partir de uma perspectiva sociopolítica. Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática, 4(3). https://doi.org/10.5335/rbecm.v4i3.12900
» https://doi.org/10.5335/rbecm.v4i3.12900
Moura, C. B. de, & Guerra, A. (2016). História Cultural da Ciência: Um Caminho Possível para a Discussão sobre as Práticas Científicas no Ensino de Ciências?. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 16(3), 725-748.
Myers, N. (2018). How to grow livable worlds: Ten not-so-easy steps. In The World to Come: Art in the Age of the Anthropocene University Press of Florida.
Newell, P., & Patterson, M. (2010). Climate Capitalism: Global Warming and the Transformation of the Global Economy Nova Iorque: Cambridge University Press.
Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in school science pedagogy. International Journal of Science Education, 21(5), 553-576.
Nogueira, E. de S. (2016). O estágio supervisionado de Língua Portuguesa no Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF. In Garcia-Reis, A. R., & Magalhães, Tânia G. (Orgs.), Letramentos e práticas de ensino (pp. 25-35). Campinas: Pontes Editores.
Oliveira, R. D., SILVA, A. D. (2011). A História da Ciência no Ensino: diferentes enfoques e suas implicações na compreensão da Ciência. VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Campinas. Anais do VIII ENPEC(pp. 1-12). Campinas: UNICAMP.
Osborne, J. (2014). Teaching critical thinking? New directions in science education. School Science Review, 95(352), 53-62.
Patel, R., & Moore, J. (2017). A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet University of California Press.
Reis, A. P. (2016). Letramento científico como prática inovadora numa escola pública araguainense (Dissertação de mestrado Profissional em Letras, Universidade Federal do Tocantins). Repositório da UFT. http://hdl.handle.net/11612/1726
» http://hdl.handle.net/11612/1726
Reis, P. (2013). Da discussão à ação sócio-política sobre controvérsias sócio-científicas: uma questão de cidadania. Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista, 3(1), 1-10.
Reis, P., & Galvão, C. (2016). Controvérsias Sócio-científicas e prática pedagógica de jovens professores. Investigações Em Ensino De Ciências, 10(2), 131-160. https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/514
» https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/514
Rozentalski, E. F. (2018). Indo além da natureza da ciência: o filosofar sobre a química por meio da ética química (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo). Repositório da USP.
Santos, W. L.P., & Mortimer, E.F. (2002). Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência - Tecnologia - Sociedade) no contexto da educação brasileira. ENSAIO - Pesquisa em Educação em Ciências, 02(02). https://periodicos.ufmg.br/index.php/ensaio/article/view/10060
» https://periodicos.ufmg.br/index.php/ensaio/article/view/10060
Serres M. (1995). A Modern Myth New York: Flammarion
Serres, M. (1994). O contrato natural (S. Ferreira, Trad.). Lisboa: Instituto Piaget.
Slaughter, W. S. (2012). A teoria linearizada da elasticidade Springer Science & Business Media.
Stengers, I. (2023). Uma outra ciência é possível: Manifesto por uma desaceleração das ciências (F. Silva e Silva, Trad.). Rio de Janeiro: Bazar do Tempo .
Strieder, R. B., &; Watanabe, G. (2018). Atividades investigativas na Educação Científica: dimensões e perspectivas em diálogos com o ENCI. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 18(3), 819-849.
Teixeira, R. M. (2014). O que é real para estudantes, leigos e cientistas? (Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina). Repositório da UFSC.
Tobin, K. (1990). Social constructivist perspectives on science education reform. Australian Journal of Science Teachers, 36(4), 29-35.
Zeidler, D., Sadler, T., Simmons, M., & Howes, E. (2005). Beyond STS: A research-based framework for education in socioscientific issues. Science Education, 89(3), 357-377.