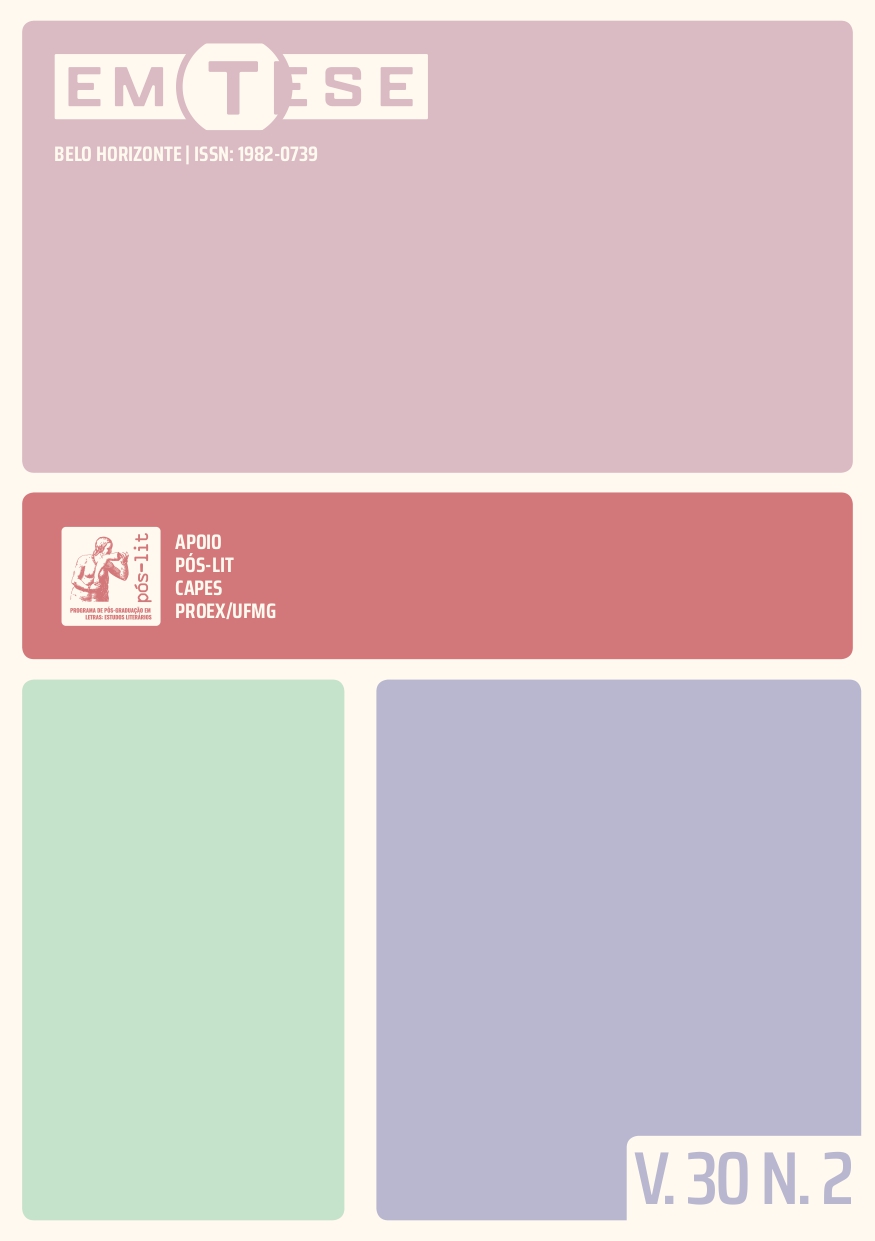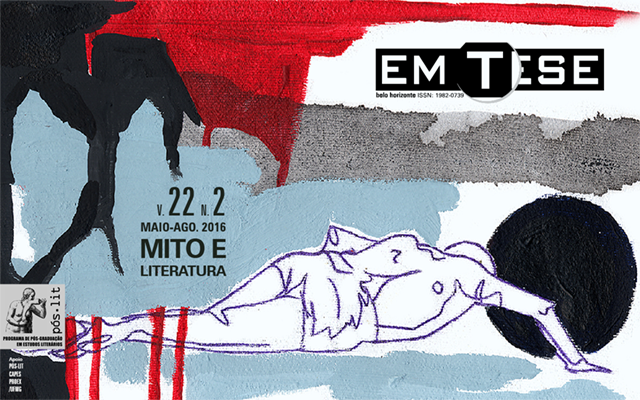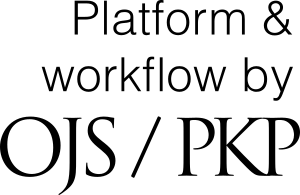Edições anteriores
-

ENTRE ANDANÇAS E MOVENÇAS, A LITERATURA DE MOVIMENTO: VIAGENS, EXÍLIOS E MIGRAÇÕES
v. 29 n. 3 (2023)Entre o traço-rastro que risca o papel no momento da escrita e o texto que chega ao leitor, a escrita literária é caracterizada pelo movimento, que faz parte de diversas obras literárias as quais representam a imagem do ser em busca de adaptação ao mundo, sendo tema de trabalhos ficcionais e poéticos. São narrativas que abordam a experiência de trajetos - sejam eles conscientes ou inconscientes, de livre e espontânea vontade ou forçados - experienciados por aqueles que se locomovem de forma direta ou indireta. Nesse sentido, imagens representativas do movimento foram integradas às narrativas como forma de aprendizagem e também de reflexão, por meio de personagens banidos, exilados, errantes, estrangeiros, deslocados, desterritorializados, migrantes, filhos de migrantes, diaspóricos, filhos da diáspora, entre outros. Todo esse léxico, que pode ser aqui sumarizado pela expressão “condição exílica” (Alexis Nouss, Pensar o exílio e a migração hoje, 2016), evidencia o quanto a literatura, enquanto um espaço de reflexão da humanidade, seja no coletivo ou individualmente, pode representar o que chamamos aqui de movenças e andanças.
A partir desta perspectiva, a Revista Em Tese se propõe, por meio do presente dossiê, a colocar em trajeto diversos textos que abordam a escrita literária produzida tendo base os deslocamentos, sejam eles resultantes de um caminho traçado entre uma localidade e outra ou de um sentimento de despertencimento a nível psíquico. Trabalhos os quais tematizem os conceitos de exiliência (Alexis Nouss, Pensar o exílio e a migração hoje, 2016) e literatura sem morada fixa (Ottmar Ette, EscreverEntreMundos: literaturas sem moradia fixa, 2018), bem como aqueles que dialogam com representações da diáspora e das migrações e também que reflitam sobre os conceitos de território, nação (Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen la difusión del nacionalismo, 1993) e globalização serão bem vindos.
Tendo em vista essas considerações acima apresentadas e de forma a proporcionar reflexões e suscitar a escrita de textos para o dossiê, traçamos, tal qual um trajeto a ser percorrido, os seguintes questionamentos que podem orientar os pesquisadores que se interessam pelo tema abordado: de que maneira o deslocamento é representado na literatura? Como o espaço literário se torna um território, capaz de atribuir a si mesmo uma língua e uma identidade próprias? A escrita opera como um meio de representação dessas identidades fragmentárias, atribuindo uma coesão que é possível por meio da narrativa? Quais os desafios de se escrever sem fronteiras e em condição de migração?
-

ENSAIO
v. 29 n. 2 (2023)Assumindo a enunciação em nome próprio como princípio e finalidade, a postura crítica e especulativa própria ao ensaio posta-se como uma prática intelectual transformadora – que se desafia e renova constantemente. Uma prática que não teme a contaminação e mantém-se trânsito: entre o objetivo e o subjetivo, o estético e o crítico, o histórico e o contemporâneo. Rejeitando, com veemência, a segurança da certeza, o ensaio abre-se para a criação de discursos que não se pretendem conclusivos, mas se sabem potentes em sua instabilidade.
Este número celebra a riqueza do ensaio em suas diversas manifestações e – tecendo uma conversa que atravessa tempos, temas e contextos – apresenta na seção Dossiê, cinco textos que exploram, cada qual à sua maneira, as múltiplas facetas desse gênero tão plural.
-

Literatura e história: o passado presente nas obras literárias
v. 28 n. 3 (2022)Obras literárias que incorporam tempos remotos constituem um gênero próprio, o romance histórico. Este oferece novas possibilidades para imaginar outras épocas e, também, para abstrair a contemporaneidade – pois, ao incorporar um fato do passado, o escritor o atualiza e, dessa forma, produz novos sentidos críticos para um acontecimento situado em um tempo distante, o que pode aprofundar as percepções do seu próprio tempo.
Na literatura brasileira do século XX, destacam-se algumas produções ambientadas em épocas conhecidas por seus autores apenas por meio dos estudos da história. São os casos, por exemplo, de Calabar (1973), de Chico Buarque, assim como dos romances O retrato do rei (1991), de Ana Miranda, Os sinos da agonia (1974), de Autran Dourado, ou A casca da serpente (1989), de José J. Veiga – os quais, no século XXI, tematizaram os primórdios da colonização portuguesa, a Guerra dos Emboabas, a Vila Rica barroca e a guerra de Canudos, respectivamente. Mas o que justifica um autor de literatura ou um realizador de cinema (no caso de filmes e novelas de época) desenvolver narrativas de ficção situadas em outros tempos? O que os faz querer reconstituir uma época diferente daquela em que vive? Conceitos como “nostalgia” ou “trauma” seriam capazes de explicar esse impulso criativo?
Essas perguntas foram propostas pelo dossiê “Literatura e história: o passado presente nas obras literárias”, que agora apresenta análises de obras de literatura em que fatos históricos foram tematizados por escritores brasileiros ou estrangeiros.
-

TEATRO BRASILEIRO: PERSPECTIVAS CRÍTICAS & TEÓRICAS
v. 28 n. 2 (2022)A forma dramática, em sentido restrito e talvez um pouco artificial, evidencia como sua base estruturante o diálogo instalado por personagens e, em larga medida, sem a intervenção de narradores. Nessa breve definição, é possível identificar ainda outras características vastamente relacionadas ao gênero teatral, tais como a sucessão linear e ininterrupta de acontecimentos no presente, as sequências organizadas por um encadeamento rigoroso dos fatos, a exposição de conflitos – de desejos contrários – entre as figuras dramáticas. Contudo, por vezes e de diferentes modos, as configurações montadas nas dramaturgias selecionam também elementos comumente associados ao lírico e ao épico, seja na voz dominante de um eu, seja na preferência pelos relatos sobre o pretérito, seja nas várias alternativas estruturantes caras às narrativas e aos poemas. Assim, observam-se com frequência certas expansões e alargamentos da forma dramática, desde o teatro grego e as criações de Ésquilo, Eurípides e Sófocles, passando pelo teatro elisabetano e as criações de William Shakespeare, chegando ao teatro político e as criações de Bertolt Brecht – limitando aqui a lista a somente esses nomes, porém reconhecendo a multiplicidade de dramaturgos e dramaturgas que ao longo dos séculos transgrediram, cada um a seu modo, a forma dramática.
-

LITERATURA E SILÊNCIO: INVESTIGAÇÕES NO ENTORNO DO NÃO DITO
v. 28 n. 1 (2022)Este dossiê é um convite a pensar o silêncio como um elemento que cerca e constitui as linguagens e, consequentemente, as obras literárias. Na literatura, o silêncio pode ganhar e gerar várias figuras e desfigurações. Ele é o infinito, que se situa nas inacabáveis possibilidades do não dito, mas é também o silêncio aquilo que reside nos espaços entre as palavras, na separação dos versos e estrofes de um poema e dos parágrafos e capítulos de um texto em prosa. Tal como as pausas fazem parte da música, o silêncio é uma matéria constituinte da literatura, pois ele possibilita que se produzam relações entre as palavras. Na poesia visual, o silêncio se instala, por exemplo, nos significativos espaços em branco que se proliferam ao longo do poema-partitura “Um lance de dados jamais abolirá o acaso”, de Mallarmé, assim como na poesia concreta dos irmãos Campos, na ilegibilidade críptica dos texto-imagens de Ana Hatherly e em tantos outras obras.
A literatura, ainda que seja escrita com o silêncio, é muitas vezes o meio no qual se investigam e se produzem estratégias para driblar o silenciamento estrutural promovido pelas guerras, ditaduras e políticas genocidas. A literatura de testemunho, consciente do silêncio que a permeia, se põe diante do que não se pode narrar, lançando o olhar sobre o apagamento sistemático que constitui nossos repertórios. O silêncio então pode ser pensado como elemento no qual articulam-se diversos significados, seja a partir dos aspectos formais que incorporam as obras literárias, das questões sociais e políticas inscritas sob regimes de silenciamento, do apagamento presente na escrita da memória, das poéticas que se desenvolvem na contracorrente dos discursos hegemônicos ou de outros diversos aspectos que levam a literatura a recriar continuamente os limites da linguagem.
-

Em Tese
v. 27 n. 3 (2021)O número 3 do volume 27 da Em Tese não inclui um dossiê temático. Ele conta com contribuições às seguintes seções: Ensino de Literatura; Teoria, Crítica Literária, Outras Artes e Mídias; e Em Tese.
-

A(s) cidade(s) na literatura brasileira
v. 27 n. 1 (2021)A pandemia da covid-19 ressaltou problemas sociais que dificultam, sobretudo para a população mais pobre, a vida nas cidades brasileiras. Realçou que estas foram e são produzidas segundo concepções e práticas hierarquizadas e segregadoras, hostis a grupos humanos – e não humanos – mais vulneráveis. Salientou a necessidade e a urgência de nossas cidades serem repensadas e reconstruídas. A literatura brasileira, em suas diversas manifestações, tem interpelado e reinventado a (de)formação da(s) cidade(s). A relação entre literatura e espaço(s) urbano(s) vem sendo estudada a partir de várias propostas teóricas e críticas. No Dossiê deste número, a Em Tese publica trabalhos que examinam questões relacionadas a maneiras como cidades e a cidade foram e são configuradas na literatura brasileira. Entre outros problemas, sobressai especialmente o da violência urbana, indagado a partir de diferentes preocupações críticas e teóricas, como elemento estético e sócio-histórico, como realidade que várias obras literárias recriam e, assim, estimulam que seja criticada, repensada, combatida com novas armas.
-
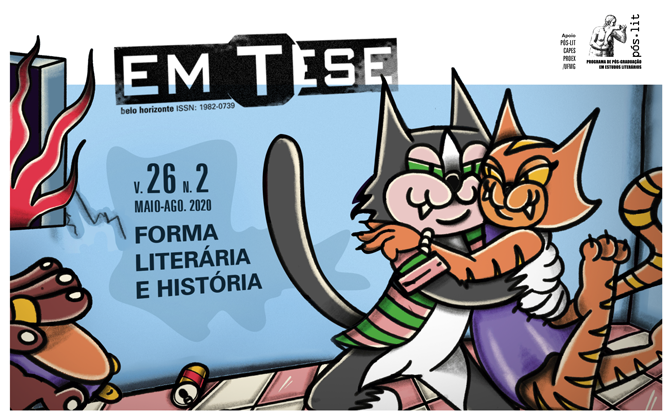
O tempo e a forma: literatura e experiência histórica
v. 26 n. 2 (2020)O dossiê O tempo e a forma: literatura e experiência histórica é contemporâneo de uma época de particular turbulência. Foi costurado no transcorrer do acirramento da crise política brasileira e na emergência da maior crise sanitária desde a gripe espanhola. No dia de hoje, 19/01/2021, o Brasil conta 210299 mortos. Brasileiros que tiveram sua estadia na terra abreviada em razão de uma tragédia, uma tragédia? A tragédia é um gênero que tem o destino enquanto elemento estruturante, o herói trágico é o personagem que corre contra ele e o encontra em cada esquina. Não penso que a vida desses mais de duzentos mil brasileiros mortos estava nas mãos do destino.
Somos o país com a segunda maior mortandade em decorrência do vírus Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos da América. A Universidade brasileira, uma das grandes construções do nosso povo, comunicou repetidamente acerca do imperativo do isolamento social, da ineficácia de medicamentos como a cloroquina. A ciência não recebeu escuta por parte do governo federal chefiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Somos o segundo país do mundo com o maior número de mortos em razão do vírus Covid-19.
A literatura parece algo menor quando colocada frente ao presente. O país empobrece, a saúde naufraga e os arroubos autoritários multiplicam-se como erva daninha. Em um contexto de infinita necessidade do básico: alimento, segurança, um futuro... o texto literário ganha feições de algo supérfluo, mas não é.
A aposta em um país democrático, capaz de assegurar a participação de todos os brasileiros tanto nos órgãos decisórios do Estado quanto na socialização da riqueza do país, tem a cultura como ponta de lança. Fora dessa liga sensível que nos enreda atráves dos sambas, romances, peças de teatro, duelos de mc e bailes funk não há país algum. É na constante reinvenção da língua literária que é o português brasileiro que vamos encontrar uma linguagem capaz de produzir um futuro que destoe do presente. -

Literaturas e sociedades: diálogos e diferenças
v. 26 n. 1 (2020)A revista Em Tese, no número 1 do volume 26, propõe uma conversa com o SPLIT (Seminário de Pesquisa Discente do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários da UFMG), cuja nona edição recebeu, em 2019, trabalhos em torno de Literaturas e sociedades: diálogos e diferenças. O presente dossiê, adotando o mesmo tema, teve por objetivo reunir artigos acerca dos modos como a criação literária – em suas diversas manifestações: orais e escritas; líricas, épicas, dramáticas e ensaísticas – pode cooperar para a construção de relações sociais que acolham e fomentem diálogos entre diferenças. Essa reflexão abrange questões várias, algumas das quais são apresentadas a seguir. Como a produção literária, em sua multiplicidade de formas e temas, pode reforçar o combate a crenças, ideias e práticas autoritárias, homogeneizadoras? De que modos as literaturas são capazes de colaborar para (re)criar, visibilizar e fortalecer, democraticamente, grupos e ações politicamente minoritários? Em um horizonte ético-teórico mais amplo, quais as possíveis contribuições da obra literária e dos Estudos Literários para a definição e a transformação de códigos e práticas sociais, especialmente no Brasil contemporâneo?
-

Poemas que se ocupam do espaço
v. 25 n. 3 (2019)No volume 25, n. 3, a revista Em Tese se volta para os Poemas que se ocupam do espaço. As temáticas relacionadas ao espaço possuem lugar cativo na poesia e sua recorrência é datável ao longo das múltiplas versões da história da literatura. Assim como os autores refazem continuamente o cânone a partir do apanhado de referências por eles elegidas, nos poemas podemos encontrar rastros da composição que determinados espaços assumem a partir do apanhado de textos em que estão contidos. O próprio conceito de topoi, oriundo da retórica grega clássica, que toma em português a forma de “lugar-comum”, surge também para mapear, como um sistema fixável, os temas da poesia, compreendendo a sistematicidade temática enquanto um conjunto de locais para onde retornam os caminhos percorridos pelos autores de cada época e local. Considerando a multiplicidade de contribuições frutíferas para os estudos, tanto de poesia como de espaço, que as leituras das relações comuns entre ambos é capaz de fomentar, o dossiê temático do volume 25, número 3, da revista Em Tese, convidou autores a enviar artigos detidos nas questões que perpassam a discussão do espaço na poesia.
-

Em torno a uma crise clássica: Permanências da crise
v. 25 n. 2 (2019)Em seu volume 25, número 2, a revista Em Tese trabalha Em torno a uma crise clássica: Permanências da crise. A crise permanece desde a Antiguidade até a Modernidade como um tópos constante nas discussões sobre cultura e civilização, atravessando a obra de autores tão diversos quanto Estácio ou Luciano – entre os antigos – e Guimarães Rosa ou Pasolini – entre os modernos. A variedade dos posicionamentos que cada intérprete da cultura pode adotar no tocante à constatação dessa crise é enorme e justifica a pluralidade de estudos publicados pela revista Em Tese, em seu primeiro número de 2019 (vol. 25, n. 1). Dando continuidade a essa discussão, abrimos extraordinariamente o presente número com a seção de Poéticas: orientada por nossa chamada em torno à pretensa situação de crise que as últimas décadas ainda testemunhariam no campo da literatura e da cultura de modo geral, oferecemos aqui um riquíssimo panorama da reflexão poética contemporânea sobre esse assunto no Brasil. Dentre os convidados que nos deram a honra de atender ao nosso chamado para contribuir com seus poemas estão: Age de Carvalho, Ana Martins Marques, Bruna Kalil Othero, Carlos Ávila, Daniel Arelli, Dirceu Villa, Guilherme Gontijo Flores, Júlia de Carvalho Hansen, Júlio Castañon Guimarães, Laura Cohen Rabelo, Leonardo Fróes, Marcos Siscar, Mônica de Aquino, Paulo Henriques Britto e Thais Guimarães. As vozes aqui reunidas oferecem uma complexa paisagem das possibilidades de compreensão do que temos chamado de “uma crise clássica”. Por mais dissonantes que elas possam se mostrar no interior desse coro polifônico e sem regente, contudo, tais vozes trazem um testemunho importante sobre as dificuldades, desafios e conquistas compartilhados por quem vive este conturbado ano de 2019. Que não se esperem melodias otimistas, nem canções alvissareiras, pois o rumor que daí se levanta é um reflexo de tempos sombrios: cacos de silêncio, sombras de sonho, ossos talvez de um quase remorso. Muitas vezes, sussurros só.
-

Em torno a uma crise clássica: Histórias de uma crise
v. 25 n. 1 (2019)Em seu volume 25, número 1, a revista Em Tese traz contribuições Em torno a uma crise clássica: histórias de uma crise. A crise tem sido um tópos cada vez mais constante nas discussões de várias disciplinas das Humanidades desde meados do século XX até o presente, sobretudo a partir de uma alardeada crise da leitura e dos valores tradicionais pretensamente atrelados a ela. O tom apocalíptico de uma série de títulos dos estudos literários publicados nas últimas décadas é um curioso sintoma dessa situação: O declínio da cultura ocidental (Allan Bloom, 1989); Quem matou Homero? (Victor Davis Hanson e John Heath, 1998); A morte de uma disciplina (Gayatri Spivak, 2003); A literatura em perigo (Tzvetan Todorov, 2010). Ainda que compartilhem certo mal-estar perante a situação atual dos estudos literários, esses autores divergem no que diz respeito às causas do problema: para os mais conservadores, a relativização do cânone e de seus valores tradicionais tem trazido problemas de formação e dificuldades pedagógicas; para os mais progressistas, o engessamento institucional e curricular dificulta a possibilidade de que tradições alternativas a esse cânone sejam devidamente estudadas. Com desdobramentos na cena literária brasileira – de José Guilherme Merquior e Leyla Perrone-Moisés a Eneida Maria de Souza e Wander Melo Miranda –, esse debate parece configurar mais uma reatualização da eterna Querelle des Anciens et des Modernes, na linha do que já era sugerido em Literatura Europeia e Idade Média Latina por Ernst Curtius (2013, p. 313).
Cientes da oportunidade que momentos de crise – real ou imaginária – oferecem a quem queira rever os critérios de seus próprios juízos (est)éticos, a fim de delinear renovadas possibilidades de crítica (ou diferentes regimes de leitura), nós da Em Tese recebemos uma multiplicidade de contribuições orientadas principalmente por: i) análises do contexto sociocultural das últimas décadas no campo dos estudos literários, com tomadas de posição explícita com relação à dita situação de crise (seja por meio de um trabalho de crítica literária, seja por meio de uma discussão teórica); ii) retomadas de debates relevantes para a história dos estudos literários, a partir da célebre antinomia “antigos x modernos”, na antiguidade, no renascimento, na modernidade e na contemporaneidade.
-

Do gênero ao gênero: do corpo do autor ao corpo do texto
v. 24 n. 3 (2018)Em seu volume 24, número 3, a revista Em Tese traz como tema o dossiê Do gênero ao gênero: do corpo do autor ao corpo do texto. O debate literário tem oferecido cada vez mais espaço para reflexões críticas sobre o que foi historicamente colocado à margem das instituições oficiais: gêneros híbridos ou fronteiriços; corpos e corporalidades dos textos, de quem (não) os escreve e de quem (não) os lê. A fim de suscitar o debate sobre a possibilidade de relacionar gênero textual (genre) e identidade de gênero (gender), a partir das mais diversas abordagens teóricas - feminismos, estudos queer, masculinidades e performatividades de gênero, por exemplo -, a Em Tese recebeu trabalhos que propuseram novos olhares sobre essas questões (e outras afins), sempre em relação com a literatura e os estudos literários. Pensando, nesse sentido, as formas que engendram corpos e textos, em seus cruzamentos múltiplos.
-

Visões do Apocalipse
v. 24 n. 2 (2018)Em seu volume 24, número 1, a revista Em Tese traz como tema Visões do Apocalipse. As representações do apocalipse na cultura ocidental são muitas e dos mais diversos vieses. Do Livro do Apocalipse de João aos memoriais dos sobreviventes dos campos de concentração, passando às narrativas distópicas e do antropoceno e aos romances experimentais pós-11 de setembro, visões do apocalipse povoam nosso imaginário criando marcos culturais. Seguindo a noção de James Berger, que define apocalipse como qualquer evento (ficcional ou não) que crie uma noção histórica e cultural de antes e depois, o dossiê Visões do Apocalipse se abre para narrativas que analisam sobreviventes, rastros e fantasmas que habitam mundos onde uma ordem antiga foi quebrada para que outra se formasse. Da ficção histórica à ficção científica, o apocalipse revisita nossos traumas e angústias sociais de maneira questionadora e profunda.
-

Teatro & Ética
v. 24 n. 1 (2018)O volume 24, número 1, da revista Em Tese, traz como tema Teatro & Ética. Essa é a primeira vez que este periódico põe em foco as artes cênicas. Não foi uma tarefa simples, pois compreendemos que o Teatro, graças à multiplicidade de formas que pode assumir, é capaz de reunir em si diversas outras expressões artísticas (literatura, música, dança, pintura, escultura, cinema, arquitetura...). Por ser uma arte de fronteiras que precisam constantemente ser transpostas, os palcos nos exigiram escuta atenta às distintas estéticas que deles eclodem. Nesse momento, o teatro brasileiro vive uma ebulição de literaturas dramáticas e espetaculares que se centram em questões ligadas à visibilidade e representatividade de parcelas da população que foram violentamente minorizadas ao longo da história. É o caso das pessoas LGBTIQ+, negras(os), faveladas(os), mulheres e indígenas. Negando-se a serem enxergadas apenas como “o outro”, essas artistas cada vez mais tomam posse de suas partes no discurso do sensível, no “nós” de quem enuncia a arte. Sabemos que a linguagem teatral não atua em um solo neutro e, assim sendo, todas essas imagens estéticas incorporam éticas (enquanto valores, formas de pensamento, experiências vividas) que atuam de forma a redefinir não apenas o campo artístico ao seu redor, como também as esferas sociais e culturais. Pensando na arte teatral como propositora e mediadora dos conflitos que surgem dessas visões de mundo, a Em Tese convidou autoras(es) a enviarem artigos sobre as múltiplas interfaces existentes entre Teatro & Ética, pensando desde as produções de representações éticas nas estéticas descoloniais contemporâneas ou mesmo abordando revisionismos
históricos e estados de exceção. -

Conflitos com o Outro na Literatura Anglófona
v. 23 n. 3 (2017)O volume 23, número 3, da revista Em Tese traz como tema “Conflitos com o Outro na Literatura Anglófona”. No primeiro número com dossiê dedicado à literatura em língua inglesa na história da revista, buscamos questionamentos relacionados aos diversos Outros das várias literaturas escritas na língua: o dossiê conta com artigos que versam sobre conflitos raciais, conflitos de gênero (tanto do viés feminino quanto do masculino), relações entre colonizadores e colonizados, literatura de guerra e até mesmo ficção científica. Há uma notável riqueza de temas nos artigos selecionados, que publicamos em português ou em inglês; a entrevista também traz as posições políticas e literárias de uma escritora de poemas e romances, sem mencionar a curadoria de poesias, ilustrações e de um texto dramático, para evidenciar a força e a variedade de Outros que avançam em sua relevância e impacto na literatura e nas outras artes.
-

Teoria em perspectiva
v. 23 n. 2 (2017)O volume 23, n. 2, da revista Em Tese, traz como tema o dossiê Teoria em perspectiva. Em homenagem aos cem anos do ensaio “Arte como procedimento”, de Viktor Chklovski, cuja problematização acerca da especificidade do objeto literário marca a insurgência de um campo de discussão, conhecido por nós, hoje, como Teoria da Literatura, propusemos aos pesquisadores debater a herança dessas correntes do início do século XX, bem como os contrastes e as tendências do pensamento teórico que se desenham no contemporâneo.
-

Literatura e Democracia
v. 23 n. 1 (2017)Primeiramente, vocês sabem. Escrever pode ser um gesto político. Mas nem sempre pode ser. Alguns escrevem e são torturados. Outros escrevem dentro das prisões. Vozes escrevem para silenciar vozes. Sem falar nas literaturas orais que grafitam fora isto, abaixo aquilo. Ou mesmo nas estratégias textuais utilizadas, ao longo do tempo, para censurar ou driblar a censura. Pense nessas crises: daí temos esta edição da Em Tese. We have a dream: um Dossiê que investigue a relação entre Literatura – em suas diversas manifestações, orais e escritas, líricas e épicas e dramáticas e ensaísticas – e Democracia – seja quando ela existiu e/ou quando ela não pode existir, seja enquanto conceito e/ou enquanto forma social. Muitos escritores, ao longo de períodos ditatoriais ou de liberdade de expressão, produziram seus textos discutindo, formalmente e/ou como tema, essa maneira de governo em que o povo exerce a soberania. Por isso a pauta do v. 23, n. 1 da Em Tese é democrática: não importa se seu objeto de estudo literário é pró ou contra o regime popular. O foco está no tensionamento entre Literatura e Democracia. Ame-os ou deixe-os.
-

A LITERATURA & O LIVRO
v. 22 n. 3 (2016)Se os discursos apocalípticos sobre o fim do livro parecem ter finalmente arrefecido, diante da constatada sobrevivência do livro físico (em variados formatos) ao lado dos suportes digitais, a forma, a materialidade e certa simbologia do livro vêm sendo, nas últimas décadas, tensionadas – seja por diferentes correntes do pensamento que têm dedicado especial atenção ao livro como instituição ocidental do saber e da cultura; seja por artistas que veem no objeto livro um campo de experimentações e investigações materiais e conceituais; seja, ainda, no âmbito do design editorial, que se alimenta também do experimentalismo material e gráfico ao passo que tenta investir o produto livro de novas roupagens, tendo em vista um mercado cada vez mais competitivo e um público cada vez mais exigente. Além disso, convive com o livro em sua forma mais amplamente difundida e reconhecida uma série de práticas alternativas, novas e antigas, que vêm ganhando destaque no universo livresco: livros artesanais, independentes, produzidos com materiais os mais diversos, autopublicações, literatura digital e, ainda, criações de grupos e povos que há até pouco tempo não se utilizavam da tecnologia do livro. Tendo como horizonte esse prolífico cenário – e sem desconsiderar, claro, a história das práticas e das reflexões acerca do livro –, o v. 22, n. 3 da revista Em Tese convida pesquisadores e artistas a refletir sobre a forma, a matéria e a experiência de leitura do livro, levando em conta seus mais variados meios e modos de produção e circulação ao longo dos tempos.